Playlist 30.Abril.2005
Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra & Tra-La-La Band - Mountains Made of Steam
Angela Jaeger & David Cunningham - Wood and Glass
Stephan Mathieu - Smile
Young Marble Giants - Choci Loni
Mercury Rev - Diamonds
Colleen - Summer Water
Tarwater - In a Single Place
T.O.L.L. - Milzbrand
DJ Wally - The 29th Day
Omid - Etched in Sky
Solex - One Louder Solex
Four Tet - A Joy
Basil Kirchin - Heart of the North
uma colher de jazz:
Albert Ayler - Masonic Inborn
Rain - Whine and Wail
Arthur Russell - Hiding Your Present From You
Gang Gang Dance - Nomad For Love (Cannibal)
o coffee breakz recorda:
Ride - Nowhere (LIVE Reading Festival 1992)
27/04/2005
Bear Claw - Find the Sun
2004

Sickroom Records
Já Bocage não sou, dizia o poeta. Mas não é só de palavras caídas em papel imaculado, veneradas pelos doutos senhores das academias, que vive este mundo. Há uma parte suja, descalça, miserável que cresce na periferia das grandes cidades, dos arranha-céus e das multinacionais. Esse meio-mundo passa metade da vida a lixar os teoremas dos bem pensantes, a comprometer as cabecinhas esclarecidas. Havia em tempos, é coisa de uns valentes dez anos para trás, uma cena que encheu os coraçõezinhos dos adolescentes de um fulgor pouco habitual para uma indústria habituada aos longos cabelos do metal sem mioleira. Há aqui e ali tentativas de revivalismo, mas a fruta está podre antes de cair. A intensidade de Ícaro ficou lá na costa ocidental dos Estados Unidos, nunca foi verdadeiramente trazida.
Steve Albini foi um maldito desse tempo, na pele de produtor – apesar de odiar a designação – e a encimar projectos como Big Black, o mais citado, Rapeman, o mais fugaz, e Shellac, o que ainda existe passados treze anos. Em comum têm a crueza de um indie rock sem contemplações que muito deve a um engenheiro de som que não pode com hippies e tem fama de possuir mau feitio. Contas feitas, é a exploração da arte pela arte, sem máquinas registadoras a acumular cifrões e estafetas despedidos ao primeiro deslize orçamental.
Find the Sun é um disco preso por pinças que vive em permanente estado de emulsão, de suspensão, por um trio (power trio foi outro dos conceitos minuciosamente explorados quando era cool usar ténis sujos) baseado em Chicago. Os Bear Claw estão tão ocupados na sua senda revisionista do som que matizou o início dos anos 90 que até esquecem – sabemos que conscientemente – que os tempos, os tempos estão a mudar. Soam datados e decisivamente retro, quase, quase jurássicos. Tudo isto soa nostálgico, sujo, bonito.
Uma formação que se apoia em dois baixos, engrandecidos pelo savoir faire de Albini, uma bateria que serve para demarcar linhas de expansão e gravidade, enfim uma voz que fica a metade do percurso entre o pugilato da dupla MacKaye/Picciotto e o rasganço carregadinho de glam de uns Black Halos postos a descongelar ao sol. São as coordenadas possíveis de um sonho acompanhado de erecção de quem passou a adolescência a cantar frente ao espelho que se é feio mas não faz mal.
“Repetition” assusta à primeira, parece daquelas palavras de ordem gritadas ao megafone e que nada dizem, tipo “a revolução não passa na televisão”, comissariadas por tipos neoburgueses que usam ténis Adidas e que, um dia ou outro, se lembram que ir para a rua fingir que se é grande de espírito fica bem. Mas depois aquilo compõe-se, não é hino para desbravar mato, é só prelúdio para uma revolução que se assemelha a mijo de tão estagnada e nunca acontece. Rich Fessler e amigos sabem-no, felizmente. Mas também quem acredita ainda numa reedição de “Smells Like Teen Spirit” para ajudar a pensar?
A coisa fica ali, pela rama, na costa dos murmúrios, dos pregadores de chinelo que sabem que são inúteis os passos que dão. A resistência é ainda a melhor forma de agir. “Jigsaw” quer voar, soltar-se dos cânones definidos ao primeiro tema, mas é só a seguir, em “One Ending”, que a pulsação aumenta, que as veias latejam mais, que o ácido começa a ferver nas cordas e faz soltar as pregas da voz. Mais lá para o fim, “832” é o número mais punk rock, a pôr a chave na ignição da galáxia Dischord, e a martelar, sublime, “I want you to die”. Pragmática mas circunstancial entorse na economia do álbum.
Claro que tudo isto há-de repugnar as bestazinhas acríticas, que têm o juízo ciosamente formatado pelos media de grande circulação. Mas delas não reza a história. Dos Bear Claw também não mas um exercício crítico sincero, que caiba ou não fisicamente num disco, sempre dá para dormir descansado.
http://www.bodyspace.net/album.php?album_id=432

Sickroom Records
Já Bocage não sou, dizia o poeta. Mas não é só de palavras caídas em papel imaculado, veneradas pelos doutos senhores das academias, que vive este mundo. Há uma parte suja, descalça, miserável que cresce na periferia das grandes cidades, dos arranha-céus e das multinacionais. Esse meio-mundo passa metade da vida a lixar os teoremas dos bem pensantes, a comprometer as cabecinhas esclarecidas. Havia em tempos, é coisa de uns valentes dez anos para trás, uma cena que encheu os coraçõezinhos dos adolescentes de um fulgor pouco habitual para uma indústria habituada aos longos cabelos do metal sem mioleira. Há aqui e ali tentativas de revivalismo, mas a fruta está podre antes de cair. A intensidade de Ícaro ficou lá na costa ocidental dos Estados Unidos, nunca foi verdadeiramente trazida.
Steve Albini foi um maldito desse tempo, na pele de produtor – apesar de odiar a designação – e a encimar projectos como Big Black, o mais citado, Rapeman, o mais fugaz, e Shellac, o que ainda existe passados treze anos. Em comum têm a crueza de um indie rock sem contemplações que muito deve a um engenheiro de som que não pode com hippies e tem fama de possuir mau feitio. Contas feitas, é a exploração da arte pela arte, sem máquinas registadoras a acumular cifrões e estafetas despedidos ao primeiro deslize orçamental.
Find the Sun é um disco preso por pinças que vive em permanente estado de emulsão, de suspensão, por um trio (power trio foi outro dos conceitos minuciosamente explorados quando era cool usar ténis sujos) baseado em Chicago. Os Bear Claw estão tão ocupados na sua senda revisionista do som que matizou o início dos anos 90 que até esquecem – sabemos que conscientemente – que os tempos, os tempos estão a mudar. Soam datados e decisivamente retro, quase, quase jurássicos. Tudo isto soa nostálgico, sujo, bonito.
Uma formação que se apoia em dois baixos, engrandecidos pelo savoir faire de Albini, uma bateria que serve para demarcar linhas de expansão e gravidade, enfim uma voz que fica a metade do percurso entre o pugilato da dupla MacKaye/Picciotto e o rasganço carregadinho de glam de uns Black Halos postos a descongelar ao sol. São as coordenadas possíveis de um sonho acompanhado de erecção de quem passou a adolescência a cantar frente ao espelho que se é feio mas não faz mal.
“Repetition” assusta à primeira, parece daquelas palavras de ordem gritadas ao megafone e que nada dizem, tipo “a revolução não passa na televisão”, comissariadas por tipos neoburgueses que usam ténis Adidas e que, um dia ou outro, se lembram que ir para a rua fingir que se é grande de espírito fica bem. Mas depois aquilo compõe-se, não é hino para desbravar mato, é só prelúdio para uma revolução que se assemelha a mijo de tão estagnada e nunca acontece. Rich Fessler e amigos sabem-no, felizmente. Mas também quem acredita ainda numa reedição de “Smells Like Teen Spirit” para ajudar a pensar?
A coisa fica ali, pela rama, na costa dos murmúrios, dos pregadores de chinelo que sabem que são inúteis os passos que dão. A resistência é ainda a melhor forma de agir. “Jigsaw” quer voar, soltar-se dos cânones definidos ao primeiro tema, mas é só a seguir, em “One Ending”, que a pulsação aumenta, que as veias latejam mais, que o ácido começa a ferver nas cordas e faz soltar as pregas da voz. Mais lá para o fim, “832” é o número mais punk rock, a pôr a chave na ignição da galáxia Dischord, e a martelar, sublime, “I want you to die”. Pragmática mas circunstancial entorse na economia do álbum.
Claro que tudo isto há-de repugnar as bestazinhas acríticas, que têm o juízo ciosamente formatado pelos media de grande circulação. Mas delas não reza a história. Dos Bear Claw também não mas um exercício crítico sincero, que caiba ou não fisicamente num disco, sempre dá para dormir descansado.
http://www.bodyspace.net/album.php?album_id=432
26/04/2005
Nick Cave & The Bad Seeds - B-Sides and Rarities
Mute Records
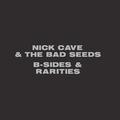
Rating: 7/10, 8/10, 9/10, respectively
Documenting twenty-one years of career in three CD set is not an easy task to accomplish. If you are talking about Nick Cave and his Bad Seeds - who occupy the same gloomy wavelength of fellow musicians Johnny “The Man in Black” Cash and Leonard Cohen - the enterprise is even greater. From the formative years in the early 80s to last year’s addition, Abbatoir Blues/The Lyre of Orpheus, this is a collection of B-sides, outtakes and extra recordings of Nick Cave, as accompanied by The Bad Seeds.
A founding member of the band, and also a curator of this endeavour, Mick Harvey states that the recording quality here jumps around enormously, from rough-edged tracks to the glowing compositions for soundtracks and projects alike. Put together in some chronological order, B-Sides & Rarities sometimes gets mixed so the whole thing glues together in a more discernible way.
Disc One kicks off with three acoustic takes, running back to back and illustrating a honky-tonk phase of The Bad Seeds. “The Mercy Seat” is an obvious standpoint, a track that was later recycled by Johnny Cash for his American Recordings with producer Rick Rubin. Nick Cave has always been obsessed with death, religion and violence, a triptych that any of these records telescopes in with great detail. For this walk to the death row, the Australian-born crooner incarnates the outlaw and of course claims innocence. This sort of imagery paved the way for Murder Ballads to emerge early in 1996 and gain a huge deal of acclaim.
But before that he started the whole career off with From Her to Eternity in 1984, from whose sessions the contemplative “The Moon Is in the Gutter” is taken. Also deserving some attention are the rendition of a traditional song with “Rye Whisky,” the cover of Leadbelly’s “Black Betty,” the alcohol-soaked but no less overdriven “The Girl at the Bottom of My Glass,” and the mesmerizing, jazzy “Cocks ‘n’ Asses.” Issued in 1989, The Bridge is a Neil Young tribute album to which Cave contributes the track “Helpless,” also featured here.
Three years prior to that, Nick Cave took a hiatus from recording and playing duties to appear in Wim Wenders’ hallucinating flick, Wings of Desire. It was the first of a series of collaborative efforts with the director, the second being the original soundtrack of Wenders’ Until the End of the World in 1991, which has given us the Valentine tune “(I’ll Love You) Till the End of the World.” Featuring the great, great Barry Adamson playing bass, “Cassiel’s Song” engulfs the right amount of air to deliver crystal-clear vocals with an urgent, slow appeal. Wrapping up the first record are the pendulum-swinging cover of Cohen’s “Tower of Song” and “What Can I Give You?” – a star-gazing hymn, sometimes reminiscent of the hesitant, young crooners of today.
The Nick Cave and Shane MacGowan duet of the inimitable Louis Armstrong’s “What a Wonderful World” opens up the second CD of this set, along with “Rainy Night in Soho,” a loose cover of vintage The Pogues. “Jack the Ripper” unfolds a haunting veil over the already suturing atmosphere of the album, while “Sail Away” calms things down a bit, the latter being taken from the Let Love In sessions, a record that has granted the band an invitation to perform on the 1994 edition of the Lollapalooza tour.
Like Cash, Cave has always shown a love for the alienated and maladjusted and, while The Man in Black himself performed before a detainees-comprised crowd, the latter has a résumé of numbers reflecting on or inspired by the life between bars. “There’s No Night Out at the Jail,” a cover of an Australian country classic, is one of his most accomplished examples.
Again a jazz number punctuates the sometimes breezeless ensemble, this time it is the obvious “That’s What Jazz Is to Me” loosely enhancing the improvisational side of things. Two tracks later, Gallon Drunk saxophonist Terry Edwards shows up to give a hand to the blossoming, hide-and-seek “The Ballad of Robert Moore and Betty Coltrane.” Later on runs the previously unreleased version of “Where the Wild Roses Grow,” as commissioned by Blixa Bargeld, a founding member who departed from the Bad Seeds two years ago. This is a frightening demarcation from the soft, well-known interpretation by Kylie Minogue. “Time Jesum Transeuntum Et Non Riverentum,” originally released as a hidden track on the TV soundtrack of The X-Files is one of Cave’s documented takes on religion and the love/hate relationship with the Almighty Lord.
And thus we reach the best part of this set, the one that showcases outlandish material from my favourite Bad Seeds records to date, The Boatman’s Call - which, in Cave’s words, sounds like a bug being crushed - and the piano-bounced No More Shall We Part. Possible highlights include: a band version of “Black Hair,” different from the one featured on The Boatman’s Call; the ashtray-full Polaroids, “Grief Came Riding” and “Bless His Ever Loving Heart,” both taken from the special edition of No More…; “I Feel So Good,” a light-hearted number, part of the Martin Scorsese Presents the Blues TV series, in 2003; the title track from Nocturama; and “Under This Moon,” from last year’s recording sessions.
If the name-dropping feel of this review got on your nerves, the same happened to me. This is solely due to the fact that almost every one of the compositions enclosed here are, at least, worth mentioning. This will definitely please the archivist fan of Cave and the Bad Seeds and intrigue everyone else. But no one – and I stress, no one – should remain indifferent to the lingering work of one of the most hair-raising troubadours alive. Bad Seeds will be sown in your head and flourish as communal images of moral sneaks, computer geeks, drug freaks and queer bashers. For God, God is in da house, right? Well, it's all part of Nick’s game.
http://www.lostatsea.net/review.phtml?id=3766408094262db28cdfda
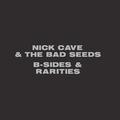
Rating: 7/10, 8/10, 9/10, respectively
Documenting twenty-one years of career in three CD set is not an easy task to accomplish. If you are talking about Nick Cave and his Bad Seeds - who occupy the same gloomy wavelength of fellow musicians Johnny “The Man in Black” Cash and Leonard Cohen - the enterprise is even greater. From the formative years in the early 80s to last year’s addition, Abbatoir Blues/The Lyre of Orpheus, this is a collection of B-sides, outtakes and extra recordings of Nick Cave, as accompanied by The Bad Seeds.
A founding member of the band, and also a curator of this endeavour, Mick Harvey states that the recording quality here jumps around enormously, from rough-edged tracks to the glowing compositions for soundtracks and projects alike. Put together in some chronological order, B-Sides & Rarities sometimes gets mixed so the whole thing glues together in a more discernible way.
Disc One kicks off with three acoustic takes, running back to back and illustrating a honky-tonk phase of The Bad Seeds. “The Mercy Seat” is an obvious standpoint, a track that was later recycled by Johnny Cash for his American Recordings with producer Rick Rubin. Nick Cave has always been obsessed with death, religion and violence, a triptych that any of these records telescopes in with great detail. For this walk to the death row, the Australian-born crooner incarnates the outlaw and of course claims innocence. This sort of imagery paved the way for Murder Ballads to emerge early in 1996 and gain a huge deal of acclaim.
But before that he started the whole career off with From Her to Eternity in 1984, from whose sessions the contemplative “The Moon Is in the Gutter” is taken. Also deserving some attention are the rendition of a traditional song with “Rye Whisky,” the cover of Leadbelly’s “Black Betty,” the alcohol-soaked but no less overdriven “The Girl at the Bottom of My Glass,” and the mesmerizing, jazzy “Cocks ‘n’ Asses.” Issued in 1989, The Bridge is a Neil Young tribute album to which Cave contributes the track “Helpless,” also featured here.
Three years prior to that, Nick Cave took a hiatus from recording and playing duties to appear in Wim Wenders’ hallucinating flick, Wings of Desire. It was the first of a series of collaborative efforts with the director, the second being the original soundtrack of Wenders’ Until the End of the World in 1991, which has given us the Valentine tune “(I’ll Love You) Till the End of the World.” Featuring the great, great Barry Adamson playing bass, “Cassiel’s Song” engulfs the right amount of air to deliver crystal-clear vocals with an urgent, slow appeal. Wrapping up the first record are the pendulum-swinging cover of Cohen’s “Tower of Song” and “What Can I Give You?” – a star-gazing hymn, sometimes reminiscent of the hesitant, young crooners of today.
The Nick Cave and Shane MacGowan duet of the inimitable Louis Armstrong’s “What a Wonderful World” opens up the second CD of this set, along with “Rainy Night in Soho,” a loose cover of vintage The Pogues. “Jack the Ripper” unfolds a haunting veil over the already suturing atmosphere of the album, while “Sail Away” calms things down a bit, the latter being taken from the Let Love In sessions, a record that has granted the band an invitation to perform on the 1994 edition of the Lollapalooza tour.
Like Cash, Cave has always shown a love for the alienated and maladjusted and, while The Man in Black himself performed before a detainees-comprised crowd, the latter has a résumé of numbers reflecting on or inspired by the life between bars. “There’s No Night Out at the Jail,” a cover of an Australian country classic, is one of his most accomplished examples.
Again a jazz number punctuates the sometimes breezeless ensemble, this time it is the obvious “That’s What Jazz Is to Me” loosely enhancing the improvisational side of things. Two tracks later, Gallon Drunk saxophonist Terry Edwards shows up to give a hand to the blossoming, hide-and-seek “The Ballad of Robert Moore and Betty Coltrane.” Later on runs the previously unreleased version of “Where the Wild Roses Grow,” as commissioned by Blixa Bargeld, a founding member who departed from the Bad Seeds two years ago. This is a frightening demarcation from the soft, well-known interpretation by Kylie Minogue. “Time Jesum Transeuntum Et Non Riverentum,” originally released as a hidden track on the TV soundtrack of The X-Files is one of Cave’s documented takes on religion and the love/hate relationship with the Almighty Lord.
And thus we reach the best part of this set, the one that showcases outlandish material from my favourite Bad Seeds records to date, The Boatman’s Call - which, in Cave’s words, sounds like a bug being crushed - and the piano-bounced No More Shall We Part. Possible highlights include: a band version of “Black Hair,” different from the one featured on The Boatman’s Call; the ashtray-full Polaroids, “Grief Came Riding” and “Bless His Ever Loving Heart,” both taken from the special edition of No More…; “I Feel So Good,” a light-hearted number, part of the Martin Scorsese Presents the Blues TV series, in 2003; the title track from Nocturama; and “Under This Moon,” from last year’s recording sessions.
If the name-dropping feel of this review got on your nerves, the same happened to me. This is solely due to the fact that almost every one of the compositions enclosed here are, at least, worth mentioning. This will definitely please the archivist fan of Cave and the Bad Seeds and intrigue everyone else. But no one – and I stress, no one – should remain indifferent to the lingering work of one of the most hair-raising troubadours alive. Bad Seeds will be sown in your head and flourish as communal images of moral sneaks, computer geeks, drug freaks and queer bashers. For God, God is in da house, right? Well, it's all part of Nick’s game.
http://www.lostatsea.net/review.phtml?id=3766408094262db28cdfda
23/04/2005
#5: "Just running scared, each place we go"
Playlist 23.Abril.2005
Ficheiro MP3
El-P - Love Theme
Richard Youngs - Machaut's Dream
Nick Cave & The Bad Seeds - Running Scared
Elliott Sharp - Heathern
Labradford - V [Harold Budd remix]
Amon Tobin & Kid Koala - Untitled
Rashied Ali & Frank Lowe - Duo Exchange
Morwell Unlimited Meet King Tubby's - Lightning & Thunder
Love Joys - Chances Dub
Badawi - Final Warning
eléctrodos avariados:
AFX - Phonatacid
DJ /rupture - Into the Ohio River
Divine Styler - Hajji
Edan - Fumbling Over Words That Rhyme
Venetian Snares - Szamár Madár
o coffee breakz recorda:
Henry Mancini - Here's Looking at You
Ficheiro MP3
El-P - Love Theme
Richard Youngs - Machaut's Dream
Nick Cave & The Bad Seeds - Running Scared
Elliott Sharp - Heathern
Labradford - V [Harold Budd remix]
Amon Tobin & Kid Koala - Untitled
Rashied Ali & Frank Lowe - Duo Exchange
Morwell Unlimited Meet King Tubby's - Lightning & Thunder
Love Joys - Chances Dub
Badawi - Final Warning
eléctrodos avariados:
AFX - Phonatacid
DJ /rupture - Into the Ohio River
Divine Styler - Hajji
Edan - Fumbling Over Words That Rhyme
Venetian Snares - Szamár Madár
o coffee breakz recorda:
Henry Mancini - Here's Looking at You
21/04/2005
2046, de Wong Kar-Wai
China / Itália / França / Hong Kong, 2004
Em 2046, o mundo está atravessado de carris. Todas as recordações são rastos de lágrimas que nos reenviam para o passado e de volta ao presente, como um pêndulo. Para resolver situações incompletas, pendentes. Os segredos não se dizem senão às árvores, como antigamente. Antes, as pessoas escalavam uma montanha, abriam um buraco numa árvore e nele deixavam o segredo, que era depois coberto com lama.
Mas porquê deixar 2046? A resposta é vaga, sempre. Para que nunca se levante a ponta do véu que esconde os nossos segredos mais íntimos. É ao ritmo deles que o novo filme de Wong Kar-Wai se desenrola. Alguém vai adiantando que deixou no passado alguém que não sabia se o amava. Toma o comboio para o passado.
O filme vai-se escrevendo a si, enquanto Chow martela caracteres de uma história que ora é sua, ora se confunde com a mise en scène de outros personagens, numa teia de relações que se adensa à medida que se entra mais fundo no passado que ficou lá trás. Ele, o protagonista, foi em tempos jornalista e é agora escritor afamado que fala de sexo porque tem de ganhar a vida. Os romances de samurais não dão para as suas extravagâncias.
Tem cabelo à escovinha, na melhor tradição xunga de galã de feira, carregado de brilhantina e bigode com recorte à chulo. E a sua caracterização física fica porque ajuda à compreensão da sua persona. Regressa a Hong Kong por altura dos motins de 1966. Fica num hotel, no quarto 2047, porque ainda era preciso limpar o 2046. Enfim, a simbologia dos números a marcar datas, a definir horizontes de partida e chegada. Afinal, nesse quarto tinha sido assassinada, na véspera do seu check-in, uma mulher com quem havia sido íntimo, às mãos de um namorado ciumento. Isso ele não era.
Miss Wang, uma das filhas do proprietário do hotel, namora com um japonês mas a relação não é autorizada pelo pai. A Segunda Grande Guerra e isso... A ópera serve para abafar as discussões. Ela foge e, quando regressa, é Chow quem recebe e lhe entrega a correspondência para evitar a censura do pai. Chow mantém uma relação física intensa com Bai Ling, mulher fogosa e tal. Mas quando ela se abre com ele e se lhe entrega, ele diz-lhe que prefere venda a retalho. As palavras são pesadas mas coerentes com a sua figura de besta machista. Paga cada encontro com uma de 10 na moeda deles.
Mas é ele próprio que reconhece que o amor é questão de oportunidade. E aí quebra-se o galho da resistência e sente-se alguma empatia com o animal. De nada lhe serve voltar a Singapura para reencontrar a sua Su no corpo de uma outra Su, a Aranha Negra do casino. A véspera de Natal é uma questão decisiva neste filme, como sendo a pior noite para se estar sozinho. Ele falhou uma, a de 1969, e não se encontrou com Bai.
Voltamos ao futuro apesar de nunca ninguém ter regressado de lá para contar. O viajante do comboio encontra uma andróide com reacções retardadas. A proposta de amor fica sem resposta, ele culpa o atraso dela mas não é isso. Outra vez, a questão da oportunidade. Ela amava outro, seu igual, quem sabe. Há a certeza de que de nada serve encontrar a pessoa certa antes ou depois da altura certa.
A certa altura, o filme começa a mastigar, apresenta poucos dados novos por centímetro de fita. E aquilo até já vai longo, chega a ultrapassar em poucos minutos as duas horas. Era atalhar um pouco mais a história e o filme ficava maior. Pois, maior a dar para o melhor.
Em 2046, o mundo está atravessado de carris. Todas as recordações são rastos de lágrimas que nos reenviam para o passado e de volta ao presente, como um pêndulo. Para resolver situações incompletas, pendentes. Os segredos não se dizem senão às árvores, como antigamente. Antes, as pessoas escalavam uma montanha, abriam um buraco numa árvore e nele deixavam o segredo, que era depois coberto com lama.
Mas porquê deixar 2046? A resposta é vaga, sempre. Para que nunca se levante a ponta do véu que esconde os nossos segredos mais íntimos. É ao ritmo deles que o novo filme de Wong Kar-Wai se desenrola. Alguém vai adiantando que deixou no passado alguém que não sabia se o amava. Toma o comboio para o passado.
O filme vai-se escrevendo a si, enquanto Chow martela caracteres de uma história que ora é sua, ora se confunde com a mise en scène de outros personagens, numa teia de relações que se adensa à medida que se entra mais fundo no passado que ficou lá trás. Ele, o protagonista, foi em tempos jornalista e é agora escritor afamado que fala de sexo porque tem de ganhar a vida. Os romances de samurais não dão para as suas extravagâncias.
Tem cabelo à escovinha, na melhor tradição xunga de galã de feira, carregado de brilhantina e bigode com recorte à chulo. E a sua caracterização física fica porque ajuda à compreensão da sua persona. Regressa a Hong Kong por altura dos motins de 1966. Fica num hotel, no quarto 2047, porque ainda era preciso limpar o 2046. Enfim, a simbologia dos números a marcar datas, a definir horizontes de partida e chegada. Afinal, nesse quarto tinha sido assassinada, na véspera do seu check-in, uma mulher com quem havia sido íntimo, às mãos de um namorado ciumento. Isso ele não era.
Miss Wang, uma das filhas do proprietário do hotel, namora com um japonês mas a relação não é autorizada pelo pai. A Segunda Grande Guerra e isso... A ópera serve para abafar as discussões. Ela foge e, quando regressa, é Chow quem recebe e lhe entrega a correspondência para evitar a censura do pai. Chow mantém uma relação física intensa com Bai Ling, mulher fogosa e tal. Mas quando ela se abre com ele e se lhe entrega, ele diz-lhe que prefere venda a retalho. As palavras são pesadas mas coerentes com a sua figura de besta machista. Paga cada encontro com uma de 10 na moeda deles.
Mas é ele próprio que reconhece que o amor é questão de oportunidade. E aí quebra-se o galho da resistência e sente-se alguma empatia com o animal. De nada lhe serve voltar a Singapura para reencontrar a sua Su no corpo de uma outra Su, a Aranha Negra do casino. A véspera de Natal é uma questão decisiva neste filme, como sendo a pior noite para se estar sozinho. Ele falhou uma, a de 1969, e não se encontrou com Bai.
Voltamos ao futuro apesar de nunca ninguém ter regressado de lá para contar. O viajante do comboio encontra uma andróide com reacções retardadas. A proposta de amor fica sem resposta, ele culpa o atraso dela mas não é isso. Outra vez, a questão da oportunidade. Ela amava outro, seu igual, quem sabe. Há a certeza de que de nada serve encontrar a pessoa certa antes ou depois da altura certa.
A certa altura, o filme começa a mastigar, apresenta poucos dados novos por centímetro de fita. E aquilo até já vai longo, chega a ultrapassar em poucos minutos as duas horas. Era atalhar um pouco mais a história e o filme ficava maior. Pois, maior a dar para o melhor.
16/04/2005
#4: "The days were at least twice as long"
Playlist 16.Abril.2005
Ficheiro MP3
The Ex - Hidegen Fújnak a Szelek
Daedelus - Just Briefly
Mat Young - Indecia
Buck 65 - 463
Paris Zax - High Tide
DJ Zeph - Underscore
The Bug - Countdown to Elimination
Six Organs of Admittance - Words For Two
Guignol - Salt Chunk Mary Fight Song
Josephine Foster - Hazel Eyes, I Will Lead You
o coffee breakz recorda:
Ornette Coleman - Una Muy Bonita
Anthony Braxton - Bebop
Comets on Fire - The Unicorn / Ice Age
Hella - Song From Uncle
Need New Body - Moondear / Popfest
Manu Dibango - Ceddo End Title
cassetes perdidas na aldeia global:
Abdorahman Nurak - Aktamak Köktamak
Ficheiro MP3
The Ex - Hidegen Fújnak a Szelek
Daedelus - Just Briefly
Mat Young - Indecia
Buck 65 - 463
Paris Zax - High Tide
DJ Zeph - Underscore
The Bug - Countdown to Elimination
Six Organs of Admittance - Words For Two
Guignol - Salt Chunk Mary Fight Song
Josephine Foster - Hazel Eyes, I Will Lead You
o coffee breakz recorda:
Ornette Coleman - Una Muy Bonita
Anthony Braxton - Bebop
Comets on Fire - The Unicorn / Ice Age
Hella - Song From Uncle
Need New Body - Moondear / Popfest
Manu Dibango - Ceddo End Title
cassetes perdidas na aldeia global:
Abdorahman Nurak - Aktamak Köktamak
14/04/2005
Primavera, Verão, Outono, Inverno e… Primavera, de Kim Ki-Duk
Coreia do Sul / Alemanha, 2003

Uma casa que é um templo que é uma ilha, isolada no meio de um lago. Um barco atracado que leva os personagens a chegar à outra margem. Um miúdo dorme, num quarto separado por uma porta mas sem paredes em volta. Um velho acorda-o, ele faz as suas orações. A certa altura, o miúdo decide divertir-se com os animais que encontra, na outra margem, depois de atravessar o lago. Peixe, sapo e cobra. Amarra-lhes uma guita com uma pedra na ponta. O riso do miúdo é contagiante.
Mas o velho vigiava-o de perto e aproveita a noite para amarrar uma pedra grande e pesada às costas do miúdo. Quando este acorda, queixa-se ao velho que lhe responde que também o peixe, o sapo e a cobra tinham dificuldades em mover-se e talvez tivessem morrido. Que se isto se tivesse passado com qualquer um deles, o miúdo transportaria o peso daquela pedra no seu coração para o resto da vida. Quando o miúdo percebe que apenas o sapo tinha sobrevivido, chora com mágoa.
Um arranque simples para uma história boa, que deve muito aos ensinamentos budistas. O filme desenrola-se também através de uma estrutura bastante simples: percorre as estações do ano mas arranca com espátula os momentos mais interessantes da vida de duas pessoas a viver no isolamento, uma criança que cresce ao longo da película e o seu tutor – dotado da sabedoria oriental que transmite ao garoto. É essa a sua luta.
O miúdo cresce então e aparece já jovem a ilustrar o Verão, segundo momento do filme. Chega-lhes a casa uma jovem, acompanhada da mãe, para que o Mestre a curasse. Este diz que o problema está na alma dela, que quando ela se libertar dele, ficará saudável. O jovem sente-se atraído por ela e, depois de alguns avanços prontamente reprimidos, os dois envolvem-se intensamente numa relação mais da carne do que do espírito.
Encontram-se às escondidas. A questão da porta, que antes parecia não passar de um apontamento de ironia, ganha aqui alguma importância. Velho, rapaz e miúda dormem no mesmo espaço, separados agora por duas portas. Certa noite, o jovem desiste de tentar abrir a porta do seu aposento, que partilha com o velho, para não o acordar e “atravessa” paredes... que não existem. As “portas”, mas sobretudo o facto de o jovem não se servir delas como havia feito até ali, sublinham a transgressão.
Mais tarde, o velho apanha-os, deitados no barco, à luz do dia, despidos e envolvidos no sono. Eles tentam desculpar-se mas o velho diz que apenas aconteceu o que é normal na Natureza. Pergunta à miúda se já recuperou, ela diz que sim. Terá de regressar para junto de sua mãe, diz-lhe ele então. O jovem revolta-se mas o velho alerta: a luxúria desperta o desejo de posse. E isso leva à vontade de matar. Palavras premonitórias num filme que sabiamente soube escapar ao moralismo barato.
Desconsolado, o jovem foge em procura da sua amada, deixando o velho para trás, que continua a sua vida serena e equilibrada, fazendo-se agora acompanhar de um gato. Mas é também aqui que começa o Outono. Certo dia, lê no jornal que o seu instruendo havia assassinado a mulher. O homem, agora com 30 anos, regressa, revoltado e violento. Que a sua amada se tinha enamorado por outro, apesar de lhe ter feito juras de amor.
Tenta o suicídio de forma simbólica, escrevendo “Fechado” em pedaços de papel e tapando com eles quatro dos seus órgãos sensoriais: olhos, nariz, boca e ouvidos. O velho apanha-o e aplica-lhe vergastadas nas costas. Um comportamento inusitado para um tutor que até então se revelara extremamente pacífico. Que só se explica pela repressão instintiva de qualquer acto suicida. De resto, não estamos no Japão, onde tirar a própria vida é um gesto até certo ponto aceite pela malha social e estimulado pela tradição. O teatro kabuki, a forma mais popular de arte dramática entre japoneses, mostra o suicídio de samurais e pactos de morte entre amantes. Também se sabe que muitos soldados nipónicos, confrontados com a derrota na Segunda Grande Guerra, escolhiam o suicídio para lavar a honra da pátria.
Percebemos que o velho prefere para o jovem a via do saneamento de responsabilidades à morte voluntária. Mas não deixa de o acusar pela rapidez com que havia tirado a vida a outra pessoa e por ter demonstrado incapacidade de acabar com a própria. Servindo-se da cauda do gato mergulhada em tinta negra, o velho desenha no soalho do exterior da casa um imenso conjunto de caracteres. Ordena-lhe que os entalhe com a faca do crime para sossegar a ira que tem dentro de si. Enquanto o faz, dois polícias aproximam-se do templo a fim de o deterem. O velho diz que primeiro terá de acabar aquilo.
Quando finalmente é levado, o velho fica de novo entregue a si. Recupera a forma simbólica com que o rapaz tentara suicidar-se mas vai mais longe: empilha pedaços de lenha no barco à deriva para se sentar sobre eles e junta em baixo uma vela para se imolar. Sublime forma de suicídio, com requinte e sem gemido de dor. Percebe-se que a sua missão na vida terminara com a detenção do jovem.
É Inverno quando o homem regressa ao local. Tenta reconstruir, tomar um rumo num local agora coberto de gelo e neve. Finalmente (re)encontra o caminho da espiritualidade, chegando a esculpir um Buda no gelo. Chega-lhe uma mulher, com a cara coberta. A sua identidade não é revelada mas traz uma criança nos braços. Na manhã seguinte, morre afogada ao cair num buraco feito no gelo.
Começa a desenhar-se um outro tempo, de regeneração. O homem amarra uma roca de pedra ao pé e, com muito esforço, sobe a montanha, colocando uma imagem do Buda no cume. O Sol começa então a raiar, o tempo muda, chega a Primavera. O homem, já formado e com calo, dá ensinamentos ao miúdo e novo ciclo começa. Das estações. Da vida. Bom, Yeoreum, Gaeul, Gyeowool, Geurigo Bom, no original, é uma magnífica obra de fundo encharcada de espiritualidade, em que a reprodutibilidade cíclica do tempo fere de morte os actores da vida. O ritmo da película é dado pela sucessão das estações, o que o torna intemporal, indispensável mas também impensável até este ponto.

Uma casa que é um templo que é uma ilha, isolada no meio de um lago. Um barco atracado que leva os personagens a chegar à outra margem. Um miúdo dorme, num quarto separado por uma porta mas sem paredes em volta. Um velho acorda-o, ele faz as suas orações. A certa altura, o miúdo decide divertir-se com os animais que encontra, na outra margem, depois de atravessar o lago. Peixe, sapo e cobra. Amarra-lhes uma guita com uma pedra na ponta. O riso do miúdo é contagiante.
Mas o velho vigiava-o de perto e aproveita a noite para amarrar uma pedra grande e pesada às costas do miúdo. Quando este acorda, queixa-se ao velho que lhe responde que também o peixe, o sapo e a cobra tinham dificuldades em mover-se e talvez tivessem morrido. Que se isto se tivesse passado com qualquer um deles, o miúdo transportaria o peso daquela pedra no seu coração para o resto da vida. Quando o miúdo percebe que apenas o sapo tinha sobrevivido, chora com mágoa.
Um arranque simples para uma história boa, que deve muito aos ensinamentos budistas. O filme desenrola-se também através de uma estrutura bastante simples: percorre as estações do ano mas arranca com espátula os momentos mais interessantes da vida de duas pessoas a viver no isolamento, uma criança que cresce ao longo da película e o seu tutor – dotado da sabedoria oriental que transmite ao garoto. É essa a sua luta.
O miúdo cresce então e aparece já jovem a ilustrar o Verão, segundo momento do filme. Chega-lhes a casa uma jovem, acompanhada da mãe, para que o Mestre a curasse. Este diz que o problema está na alma dela, que quando ela se libertar dele, ficará saudável. O jovem sente-se atraído por ela e, depois de alguns avanços prontamente reprimidos, os dois envolvem-se intensamente numa relação mais da carne do que do espírito.
Encontram-se às escondidas. A questão da porta, que antes parecia não passar de um apontamento de ironia, ganha aqui alguma importância. Velho, rapaz e miúda dormem no mesmo espaço, separados agora por duas portas. Certa noite, o jovem desiste de tentar abrir a porta do seu aposento, que partilha com o velho, para não o acordar e “atravessa” paredes... que não existem. As “portas”, mas sobretudo o facto de o jovem não se servir delas como havia feito até ali, sublinham a transgressão.
Mais tarde, o velho apanha-os, deitados no barco, à luz do dia, despidos e envolvidos no sono. Eles tentam desculpar-se mas o velho diz que apenas aconteceu o que é normal na Natureza. Pergunta à miúda se já recuperou, ela diz que sim. Terá de regressar para junto de sua mãe, diz-lhe ele então. O jovem revolta-se mas o velho alerta: a luxúria desperta o desejo de posse. E isso leva à vontade de matar. Palavras premonitórias num filme que sabiamente soube escapar ao moralismo barato.
Desconsolado, o jovem foge em procura da sua amada, deixando o velho para trás, que continua a sua vida serena e equilibrada, fazendo-se agora acompanhar de um gato. Mas é também aqui que começa o Outono. Certo dia, lê no jornal que o seu instruendo havia assassinado a mulher. O homem, agora com 30 anos, regressa, revoltado e violento. Que a sua amada se tinha enamorado por outro, apesar de lhe ter feito juras de amor.
Tenta o suicídio de forma simbólica, escrevendo “Fechado” em pedaços de papel e tapando com eles quatro dos seus órgãos sensoriais: olhos, nariz, boca e ouvidos. O velho apanha-o e aplica-lhe vergastadas nas costas. Um comportamento inusitado para um tutor que até então se revelara extremamente pacífico. Que só se explica pela repressão instintiva de qualquer acto suicida. De resto, não estamos no Japão, onde tirar a própria vida é um gesto até certo ponto aceite pela malha social e estimulado pela tradição. O teatro kabuki, a forma mais popular de arte dramática entre japoneses, mostra o suicídio de samurais e pactos de morte entre amantes. Também se sabe que muitos soldados nipónicos, confrontados com a derrota na Segunda Grande Guerra, escolhiam o suicídio para lavar a honra da pátria.
Percebemos que o velho prefere para o jovem a via do saneamento de responsabilidades à morte voluntária. Mas não deixa de o acusar pela rapidez com que havia tirado a vida a outra pessoa e por ter demonstrado incapacidade de acabar com a própria. Servindo-se da cauda do gato mergulhada em tinta negra, o velho desenha no soalho do exterior da casa um imenso conjunto de caracteres. Ordena-lhe que os entalhe com a faca do crime para sossegar a ira que tem dentro de si. Enquanto o faz, dois polícias aproximam-se do templo a fim de o deterem. O velho diz que primeiro terá de acabar aquilo.
Quando finalmente é levado, o velho fica de novo entregue a si. Recupera a forma simbólica com que o rapaz tentara suicidar-se mas vai mais longe: empilha pedaços de lenha no barco à deriva para se sentar sobre eles e junta em baixo uma vela para se imolar. Sublime forma de suicídio, com requinte e sem gemido de dor. Percebe-se que a sua missão na vida terminara com a detenção do jovem.
É Inverno quando o homem regressa ao local. Tenta reconstruir, tomar um rumo num local agora coberto de gelo e neve. Finalmente (re)encontra o caminho da espiritualidade, chegando a esculpir um Buda no gelo. Chega-lhe uma mulher, com a cara coberta. A sua identidade não é revelada mas traz uma criança nos braços. Na manhã seguinte, morre afogada ao cair num buraco feito no gelo.
Começa a desenhar-se um outro tempo, de regeneração. O homem amarra uma roca de pedra ao pé e, com muito esforço, sobe a montanha, colocando uma imagem do Buda no cume. O Sol começa então a raiar, o tempo muda, chega a Primavera. O homem, já formado e com calo, dá ensinamentos ao miúdo e novo ciclo começa. Das estações. Da vida. Bom, Yeoreum, Gaeul, Gyeowool, Geurigo Bom, no original, é uma magnífica obra de fundo encharcada de espiritualidade, em que a reprodutibilidade cíclica do tempo fere de morte os actores da vida. O ritmo da película é dado pela sucessão das estações, o que o torna intemporal, indispensável mas também impensável até este ponto.
10/04/2005
Sangue e Ouro, de Jafar Panahi
Irão, 2003
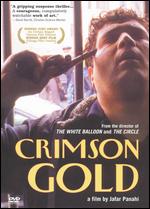
O filme começa onde devia acabar, com o assalto a uma joalharia. Coisa de amadores, mal executada, com a nervoseira de um disfarçada pela passividade-agressividade do outro. A seguir, retrocede-se no tempo para mostrar uma viagem de mota entre futuros cunhados, diálogos (a dar para os monólogos) existencialistas sobre roubar carteiras e as senhoras na rua.
E a recordação daquele senhor que dizia que até no roubo era preciso ter um método. E que se era para pôr dentro um larápio, pois que se prendesse o mundo inteiro. E depois, que fazer? Se alguém lhe roubou a carteira é porque precisa mais dela do que ele. Mas que não se incomodem as pessoas apenas por uns trocados. Lá está, o método…
Os dois amigos e colegas de profissão dirigem-se então à joalharia pela primeira vez e encontram alguma resistência da parte do dono que, temendo pela sua propriedade, prefere falar com eles através do vidro da porta de entrada. Aquele zelo todo feriu-lhe o orgulho, a Hussein, o passivo-agressivo.
Voltaram depois ao sítio, acompanhados da futura mulher (para um) / irmã (para outro), já bem vestidos, e a indagar sobre o preço de um colar, de uns brincos. Que eram para o casamento, diziam. E o dono que mal olhava para eles. A mesma desculpa da primeira vez: que fossem a uma outra joalharia, não longe daquela, para agradar mais a noiva e certamente mais em conta.
Depois, depois é a entrega de pizzas como ganha-pão dos dois amigos, a hilariante passagem da polícia a deter pessoas à saída de uma festa. Não é que aqueles depravados dormiam de dia e passavam a noite naquilo? E o encontro com o filho de exilados nos Estados Unidos que, ao regressar, encontrara uma cidade de loucos, de loucos. Como “as duas putéfias” que se puseram na alheta. Por causa de um problema fisiológico, veio a descobrir.
O deslocado convida então Hussein a ficar, a jantar com ele. Hussein conhece então um apartamento de luxo, uma vista esplendorosa sobre a cidade. Sabia que não fazia parte daquele mundo mas, em boa verdade, sempre fora um inadaptado no outro. E, quando amanhece, volta uma derradeira vez à joalharia com o intuito de a assaltar, sempre acompanhado do amigo.
E o filme retoma o fio à meada com que tinha começado. Mas Hussein já tinha estoirado os miolos depois de, num assomo de irritabilidade porque o alarme começou a soar, matar o dono.
Sangue e Ouro é um produto de uma incompleta revolução islâmica, onde as autoridades ainda legislam sobre o lazer dos cidadãos. Onde está ainda muito latente a diferença de classes e de sexos, sempre com a burka a cobrir a cabeça das mulheres. É também um arguto modo de fintar o regime fundamentalista de um Irão que ainda não despertou para uma democracia plena. Aqui não se diz claramente, escolhe-se o caminho da sugestão. Mas que adquire um realismo ímpar. Com argumento de Abbas Kiarostami, este filme é de um crueza frustrante, de uma denúncia velada, a única possível.
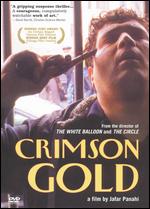
O filme começa onde devia acabar, com o assalto a uma joalharia. Coisa de amadores, mal executada, com a nervoseira de um disfarçada pela passividade-agressividade do outro. A seguir, retrocede-se no tempo para mostrar uma viagem de mota entre futuros cunhados, diálogos (a dar para os monólogos) existencialistas sobre roubar carteiras e as senhoras na rua.
E a recordação daquele senhor que dizia que até no roubo era preciso ter um método. E que se era para pôr dentro um larápio, pois que se prendesse o mundo inteiro. E depois, que fazer? Se alguém lhe roubou a carteira é porque precisa mais dela do que ele. Mas que não se incomodem as pessoas apenas por uns trocados. Lá está, o método…
Os dois amigos e colegas de profissão dirigem-se então à joalharia pela primeira vez e encontram alguma resistência da parte do dono que, temendo pela sua propriedade, prefere falar com eles através do vidro da porta de entrada. Aquele zelo todo feriu-lhe o orgulho, a Hussein, o passivo-agressivo.
Voltaram depois ao sítio, acompanhados da futura mulher (para um) / irmã (para outro), já bem vestidos, e a indagar sobre o preço de um colar, de uns brincos. Que eram para o casamento, diziam. E o dono que mal olhava para eles. A mesma desculpa da primeira vez: que fossem a uma outra joalharia, não longe daquela, para agradar mais a noiva e certamente mais em conta.
Depois, depois é a entrega de pizzas como ganha-pão dos dois amigos, a hilariante passagem da polícia a deter pessoas à saída de uma festa. Não é que aqueles depravados dormiam de dia e passavam a noite naquilo? E o encontro com o filho de exilados nos Estados Unidos que, ao regressar, encontrara uma cidade de loucos, de loucos. Como “as duas putéfias” que se puseram na alheta. Por causa de um problema fisiológico, veio a descobrir.
O deslocado convida então Hussein a ficar, a jantar com ele. Hussein conhece então um apartamento de luxo, uma vista esplendorosa sobre a cidade. Sabia que não fazia parte daquele mundo mas, em boa verdade, sempre fora um inadaptado no outro. E, quando amanhece, volta uma derradeira vez à joalharia com o intuito de a assaltar, sempre acompanhado do amigo.
E o filme retoma o fio à meada com que tinha começado. Mas Hussein já tinha estoirado os miolos depois de, num assomo de irritabilidade porque o alarme começou a soar, matar o dono.
Sangue e Ouro é um produto de uma incompleta revolução islâmica, onde as autoridades ainda legislam sobre o lazer dos cidadãos. Onde está ainda muito latente a diferença de classes e de sexos, sempre com a burka a cobrir a cabeça das mulheres. É também um arguto modo de fintar o regime fundamentalista de um Irão que ainda não despertou para uma democracia plena. Aqui não se diz claramente, escolhe-se o caminho da sugestão. Mas que adquire um realismo ímpar. Com argumento de Abbas Kiarostami, este filme é de um crueza frustrante, de uma denúncia velada, a única possível.
Os Ladrões, de André Téchiné
França, 1996

Les Voleurs, no original, tem sete momentos narrativos, prólogo e epílogo incluídos. Estas duas marcas são, aliás, as passagens em que Justin, um miúdo que perde o pai logo no início do filme, domina por completo a tela. Os narradores sucedem-se e pontuam o argumento com marcas muito próprias.
O corpo de Ivan é levado a casa da família por dois desconhecidos. Um fato e uma gravata incomodam e fazem muita comichão a um puto mesmo no funeral do pai, está bom de ver. O miúdo tem aqui uma interpretação notável, sublinhando, numa ou outra cena, que felizmente alguém não havia chorado.
Depois recua-se no tempo até quando Alex, o tio que da última vez quase se tinha travado de razões com o pai, conhece Juliette, irmã de Jimmy, que Alex já tinha metido dentro e a quem não desiste de tentar lixar a vida. Alex encontra-se fortuitamente com Juliette em quartos de hotel. A falta de compromisso fazia-lhe bem, asseverava ele. Juliette tem uma tatuagem na linha do ventre com a inscrição Marie, espécie de musa inspiradora e sua amante. Juliette é suicida e por duas ou três vezes tentou acabar com a vida. Mas é Marie quem acaba por se impor um fim. A filosofia não lhe havia dado respostas.
Acontece que Juliette e Jimmy trabalham para Ivan, ódio de morte de Alex, chui embrutecido pela rotina e que tem “a alma de um guarda-livros”. Diz-lho Juliette quando se dirigem para a montanha para assistir ao funeral. Um negócio que correu mal, explica o avô ao neto. Mas não esclarece do que se tratava – roubo de automóveis. O velho preferia que lhe tivesse morrido Alex e diz-lho na cara. Juliette estava presente na noite do crime e julga-se perseguida pela polícia. Mas já o velho tinha lembrado Alex de que estava entre a espada e a parede.
Dividido entre o dever profissional e o dever de irmão e filho, Alex teria muito a perder se desse com a língua nos dentes, até porque teria que explicar a relação que mantinha com Juliette. Entretanto, falhada a tentativa de aproximação entre Alex e Justin, o puto vê em Jimmy um modelo. Pouco falador mas sem nunca o maçar. O velho e Jimmy falam agora em roubar camiões. Alex fica de fora, claro.
Neste filme, Téchiné não ensaia ainda a sua obsessão por Tânger, como viria a explorar com minúcia em Longe (2001) e, mais recentemente, em Os Tempos que Mudam, onde Catherine Deneuve volta a entrar em cena. Deneuve é aqui Marie, o verdadeiro anjo suicida, que se conhece depois de o realizador nos ter dado Juliette como isco. Afinal, Juliette até acaba bem, a trabalhar numa livraria, muito composta, muito equilibrada.
Herdeiro do que resta da nouvelle vague francesa, Téchiné manipula magistralmente este enredo, brinca com a densidade dos personagens e dá-lhes voz de fundo para que ilustrem por si as entorses narrativas que perpassam a película. O recurso à analepse é soberbamente conseguido.

Les Voleurs, no original, tem sete momentos narrativos, prólogo e epílogo incluídos. Estas duas marcas são, aliás, as passagens em que Justin, um miúdo que perde o pai logo no início do filme, domina por completo a tela. Os narradores sucedem-se e pontuam o argumento com marcas muito próprias.
O corpo de Ivan é levado a casa da família por dois desconhecidos. Um fato e uma gravata incomodam e fazem muita comichão a um puto mesmo no funeral do pai, está bom de ver. O miúdo tem aqui uma interpretação notável, sublinhando, numa ou outra cena, que felizmente alguém não havia chorado.
Depois recua-se no tempo até quando Alex, o tio que da última vez quase se tinha travado de razões com o pai, conhece Juliette, irmã de Jimmy, que Alex já tinha metido dentro e a quem não desiste de tentar lixar a vida. Alex encontra-se fortuitamente com Juliette em quartos de hotel. A falta de compromisso fazia-lhe bem, asseverava ele. Juliette tem uma tatuagem na linha do ventre com a inscrição Marie, espécie de musa inspiradora e sua amante. Juliette é suicida e por duas ou três vezes tentou acabar com a vida. Mas é Marie quem acaba por se impor um fim. A filosofia não lhe havia dado respostas.
Acontece que Juliette e Jimmy trabalham para Ivan, ódio de morte de Alex, chui embrutecido pela rotina e que tem “a alma de um guarda-livros”. Diz-lho Juliette quando se dirigem para a montanha para assistir ao funeral. Um negócio que correu mal, explica o avô ao neto. Mas não esclarece do que se tratava – roubo de automóveis. O velho preferia que lhe tivesse morrido Alex e diz-lho na cara. Juliette estava presente na noite do crime e julga-se perseguida pela polícia. Mas já o velho tinha lembrado Alex de que estava entre a espada e a parede.
Dividido entre o dever profissional e o dever de irmão e filho, Alex teria muito a perder se desse com a língua nos dentes, até porque teria que explicar a relação que mantinha com Juliette. Entretanto, falhada a tentativa de aproximação entre Alex e Justin, o puto vê em Jimmy um modelo. Pouco falador mas sem nunca o maçar. O velho e Jimmy falam agora em roubar camiões. Alex fica de fora, claro.
Neste filme, Téchiné não ensaia ainda a sua obsessão por Tânger, como viria a explorar com minúcia em Longe (2001) e, mais recentemente, em Os Tempos que Mudam, onde Catherine Deneuve volta a entrar em cena. Deneuve é aqui Marie, o verdadeiro anjo suicida, que se conhece depois de o realizador nos ter dado Juliette como isco. Afinal, Juliette até acaba bem, a trabalhar numa livraria, muito composta, muito equilibrada.
Herdeiro do que resta da nouvelle vague francesa, Téchiné manipula magistralmente este enredo, brinca com a densidade dos personagens e dá-lhes voz de fundo para que ilustrem por si as entorses narrativas que perpassam a película. O recurso à analepse é soberbamente conseguido.
Adeus, Dragon Inn, de Tsai Ming-Liang
Taiwan, 2003

É um filme de perdição, este. Que nos leva a percorrer as entranhas de um cinema. Mas de um cinema enquanto complexo, espaço físico, onde há profusão de sombras. E respirações. Alguém diz que aquele é um cinema assombrado, habitado por fantasmas. E, de facto, antes de encerrar portas, já naquele espaço vagueava o equivalente telúrico a almas penadas.
Desconcertante e tenso, Adeus, Dragon Inn devolve ao espectador do cinema a sua imagem na tela. Daí que muito se venha a perder na transfega do filme para os ecrãs de televisão. É uma experiência comunal, nunca solitária. A cadeira do cinema é muito diferente do sofá da sala de estar. O público é convidado a entrar num filme que se debruça sobre um outro público que assiste a um filme. Um olhar insólito sobre o cinema, espaço físico e algo mais, mais ainda.
Quando as luzes voltam a ligar-se na sala de cinema, cumpre-se tão-só um ritual. De passagem. Em que se limpa e arruma a sala para os espectadores que nunca hão-de voltar a existir. Há um longo plano da sala vazia, já iluminada, a devolver-nos a imagem, o quadro que compomos.
Tsai Ming-Liang não se preocupa em estabelecer um nexo de causalidade que não seja o devir-fantasma que assiste na arquitectura do filme. Lá fora, chove copiosamente. Alguém, à saída, profere o lamento: “Já ninguém vai ao cinema”. A compor o trama, a ajudar ao drama, a prenunciar a tragédia.
E depois há as cores luxuriantes, quentes, próprias do orientalismo mais penetrante e ébrio. A sobriedade fica nas formas, na técnica, na convocação da imagem romântica do japonês tranquilo, alma vagada de atropelos à serenidade, espaço para a contemplação. E não será isto a vida?
A marcar bem os topoi da imaginação mas sem deixar pistas para o regresso a essas coordenadas. E a insistência nas dificuldades motoras de uma das funcionárias, a subir escadas que não acabam. E a música, a música é sublime.

É um filme de perdição, este. Que nos leva a percorrer as entranhas de um cinema. Mas de um cinema enquanto complexo, espaço físico, onde há profusão de sombras. E respirações. Alguém diz que aquele é um cinema assombrado, habitado por fantasmas. E, de facto, antes de encerrar portas, já naquele espaço vagueava o equivalente telúrico a almas penadas.
Desconcertante e tenso, Adeus, Dragon Inn devolve ao espectador do cinema a sua imagem na tela. Daí que muito se venha a perder na transfega do filme para os ecrãs de televisão. É uma experiência comunal, nunca solitária. A cadeira do cinema é muito diferente do sofá da sala de estar. O público é convidado a entrar num filme que se debruça sobre um outro público que assiste a um filme. Um olhar insólito sobre o cinema, espaço físico e algo mais, mais ainda.
Quando as luzes voltam a ligar-se na sala de cinema, cumpre-se tão-só um ritual. De passagem. Em que se limpa e arruma a sala para os espectadores que nunca hão-de voltar a existir. Há um longo plano da sala vazia, já iluminada, a devolver-nos a imagem, o quadro que compomos.
Tsai Ming-Liang não se preocupa em estabelecer um nexo de causalidade que não seja o devir-fantasma que assiste na arquitectura do filme. Lá fora, chove copiosamente. Alguém, à saída, profere o lamento: “Já ninguém vai ao cinema”. A compor o trama, a ajudar ao drama, a prenunciar a tragédia.
E depois há as cores luxuriantes, quentes, próprias do orientalismo mais penetrante e ébrio. A sobriedade fica nas formas, na técnica, na convocação da imagem romântica do japonês tranquilo, alma vagada de atropelos à serenidade, espaço para a contemplação. E não será isto a vida?
A marcar bem os topoi da imaginação mas sem deixar pistas para o regresso a essas coordenadas. E a insistência nas dificuldades motoras de uma das funcionárias, a subir escadas que não acabam. E a música, a música é sublime.
Bordadeiras, de Éléonore Faucher
França, 2004
Como os cucos põem os ovos nos ninhos dos outros, também Claire pretende dar à luz a criança que carrega no ventre “sob a alínea X”. Dá-la para adopção, bem entendido. A viver num lúgubre apartamento longe dos pais, a adolescente culpa a cortisona pelos quilos a mais que os seus colegas do Intermarché começam a notar nela.
O filme é uma metáfora deliciosa sobre o mistério da concepção. A primeira efabulação acontece com os cucos que Claire usa para se justificar perante a bordadeira para quem passa a trabalhar. Entre agulhas e brocados, estas duas mulheres constroem uma ligação afectiva assente numa envergonhada troca de palavras de quando em vez. Quando Madame Mélikian, a patroa, a quem lhe morreu o filho num acidente de mota, tenta o suicídio, é Claire quem a salva. Porque precisava do dinheiro, porque dela dependia, também porque gostava dela.
A fotografia de Bordadeiras é a sua mais-valia estética. Há um plano muito bonito e singular da amiga de Claire, sentada no telhado, em Lyon, lendo a carta que falava da gravidez não planeada. Era o irmão desta sua amiga quem conduzia a mota que vitimou o filho de Mélikian. E é Guillaume, a braços com um profundo sentimento de culpa, quem recupera a metáfora que é a marca de água desta película.
“É uma fêmea cheia de ovos”, explica Guillaume depois de devolver ao lago o peixe que havia apanhado. “Também eu estou prenha”, desabafa Claire e desfaz-se num pranto.
Como os cucos põem os ovos nos ninhos dos outros, também Claire pretende dar à luz a criança que carrega no ventre “sob a alínea X”. Dá-la para adopção, bem entendido. A viver num lúgubre apartamento longe dos pais, a adolescente culpa a cortisona pelos quilos a mais que os seus colegas do Intermarché começam a notar nela.
O filme é uma metáfora deliciosa sobre o mistério da concepção. A primeira efabulação acontece com os cucos que Claire usa para se justificar perante a bordadeira para quem passa a trabalhar. Entre agulhas e brocados, estas duas mulheres constroem uma ligação afectiva assente numa envergonhada troca de palavras de quando em vez. Quando Madame Mélikian, a patroa, a quem lhe morreu o filho num acidente de mota, tenta o suicídio, é Claire quem a salva. Porque precisava do dinheiro, porque dela dependia, também porque gostava dela.
A fotografia de Bordadeiras é a sua mais-valia estética. Há um plano muito bonito e singular da amiga de Claire, sentada no telhado, em Lyon, lendo a carta que falava da gravidez não planeada. Era o irmão desta sua amiga quem conduzia a mota que vitimou o filho de Mélikian. E é Guillaume, a braços com um profundo sentimento de culpa, quem recupera a metáfora que é a marca de água desta película.
“É uma fêmea cheia de ovos”, explica Guillaume depois de devolver ao lago o peixe que havia apanhado. “Também eu estou prenha”, desabafa Claire e desfaz-se num pranto.
09/04/2005
#3: "And the mercy seat is waiting"
Playlist 09.Abril.2005
1a parte
Ficheiro MP3
Tom Zé - Defect 2: Curiosidade
Yann Tiersen and Shannon Wright - Dragon Fly
Sunburned Hand of the Man - The Air Itself
Monade - La Salle des Pas Perdus
Diamanda Galás - Cris d'Aveugle / Blind Man's Cry
Jad Fair & Yo La Tengo - Minnesota Man Claims Monkey Bowled Perfect Game
2a parte
Ficheiro MP3
Johnny Cash - The Mercy Seat
Ani DiFranco - Studying Stones
antes e depois do rock:
Bonnie 'Prince' Billy & Matt Sweeney - Bed Is For Sleeping
A Hawk and a Hacksaw - Laughter in the Dark
Sub Dub - Dawa Zangpo
The Grodeck Whipperjenny - Conclusions
Cold Bleak Heat - The Blue Dabs of Varicose Veins (excerpt)
3a parte
Ficheiro MP3
Appolon and Muslimgauze - American Flag in Gaza
Mixmaster Mike - Can of Kick Ass
Airborn Audio - Bright Lights
Dosh - Rock It to the Next Episode
Shining - Alastair Explains Everything
o coffee breakz recorda:
Ethel Waters - Hottentot Potentate
1a parte
Ficheiro MP3
Tom Zé - Defect 2: Curiosidade
Yann Tiersen and Shannon Wright - Dragon Fly
Sunburned Hand of the Man - The Air Itself
Monade - La Salle des Pas Perdus
Diamanda Galás - Cris d'Aveugle / Blind Man's Cry
Jad Fair & Yo La Tengo - Minnesota Man Claims Monkey Bowled Perfect Game
2a parte
Ficheiro MP3
Johnny Cash - The Mercy Seat
Ani DiFranco - Studying Stones
antes e depois do rock:
Bonnie 'Prince' Billy & Matt Sweeney - Bed Is For Sleeping
A Hawk and a Hacksaw - Laughter in the Dark
Sub Dub - Dawa Zangpo
The Grodeck Whipperjenny - Conclusions
Cold Bleak Heat - The Blue Dabs of Varicose Veins (excerpt)
3a parte
Ficheiro MP3
Appolon and Muslimgauze - American Flag in Gaza
Mixmaster Mike - Can of Kick Ass
Airborn Audio - Bright Lights
Dosh - Rock It to the Next Episode
Shining - Alastair Explains Everything
o coffee breakz recorda:
Ethel Waters - Hottentot Potentate
06/04/2005
Autistic Daughters - Jealousy and Diamond
Kranky Records

Rating: 8/10
Jealousy and Diamond is like a big, everlasting cookie that you relentlessly bite, and each time become fascinated with the amount of crumbs produced. Considering the record does not exceed the 50-minute mark, the Autistic Daughters very often sound like an algebra professor who ran out of blackboard space.
“Florence Crown, Last Replay”, for instance, lazily flows through some delay-bathed, instrumental bass lines. This track is just the tip of the iceberg for an effort that exudes persistence and an outstanding ability to keep you warmed and informed of the latest leaves falling from the trees outside.
There is little here that will not repay repeated and obsessive listening – and what about that? Do I hear a cover of Ray Davies’ “Rainy Day in June”? Yes, and it is a sparse number, held by stringed instrumentation and the soft, whispery vocals of Dean Roberts, accompanied – as in the whole record – by musicians holding an overloaded resume including collaborations with Jim O’Rourke, Fennesz and Otomo Yoshihidie (Werner Dafeldecker on bass) and drum work for Radian and Trapist (Martin Brandlmayr on percussion).
To be honest, Jealousy and Diamond does undeniably pose a huge challenge to careworn ears, but that is part of the process. Once the Autistic Daughters strike another severely resonant chord, the battle is won and all defiant souls almost beaten. Taken in full account, this album is an indigent grower, one that showcases vague soundscapes mirroring the stress points that make the listening gratifying.
“In Your Absence From the Street” is a gentle, arrhythmic hum of a track that accelerates guitar-glued particles in the last one minute and a half. The cohesiveness of the whole is far from lost with these off-the-map ventures; in fact, it becomes quite evolving and represents a small grain helping the silent combustion. The ill-tuned sketches of the guitar around the last few tracks work as amalgamated threads that allow beauty and ugliness to coexist.
Rough takes of most of the tracks here were recorded in Vienna in 2003, then infused with additional voices and instruments a handful of months later, and the record finally came to completion when it was mastered in early summer last year. Such a long process gave credence to a flattened notion that the most flavoured wine comes from years of maturing. Help this work grow in your ear and it will help you out through the night, when melodic - almost mute – film scores spring to mind.
http://www.lostatsea.net/review.phtml?id=10283093684249e066b28e5

Rating: 8/10
Jealousy and Diamond is like a big, everlasting cookie that you relentlessly bite, and each time become fascinated with the amount of crumbs produced. Considering the record does not exceed the 50-minute mark, the Autistic Daughters very often sound like an algebra professor who ran out of blackboard space.
“Florence Crown, Last Replay”, for instance, lazily flows through some delay-bathed, instrumental bass lines. This track is just the tip of the iceberg for an effort that exudes persistence and an outstanding ability to keep you warmed and informed of the latest leaves falling from the trees outside.
There is little here that will not repay repeated and obsessive listening – and what about that? Do I hear a cover of Ray Davies’ “Rainy Day in June”? Yes, and it is a sparse number, held by stringed instrumentation and the soft, whispery vocals of Dean Roberts, accompanied – as in the whole record – by musicians holding an overloaded resume including collaborations with Jim O’Rourke, Fennesz and Otomo Yoshihidie (Werner Dafeldecker on bass) and drum work for Radian and Trapist (Martin Brandlmayr on percussion).
To be honest, Jealousy and Diamond does undeniably pose a huge challenge to careworn ears, but that is part of the process. Once the Autistic Daughters strike another severely resonant chord, the battle is won and all defiant souls almost beaten. Taken in full account, this album is an indigent grower, one that showcases vague soundscapes mirroring the stress points that make the listening gratifying.
“In Your Absence From the Street” is a gentle, arrhythmic hum of a track that accelerates guitar-glued particles in the last one minute and a half. The cohesiveness of the whole is far from lost with these off-the-map ventures; in fact, it becomes quite evolving and represents a small grain helping the silent combustion. The ill-tuned sketches of the guitar around the last few tracks work as amalgamated threads that allow beauty and ugliness to coexist.
Rough takes of most of the tracks here were recorded in Vienna in 2003, then infused with additional voices and instruments a handful of months later, and the record finally came to completion when it was mastered in early summer last year. Such a long process gave credence to a flattened notion that the most flavoured wine comes from years of maturing. Help this work grow in your ear and it will help you out through the night, when melodic - almost mute – film scores spring to mind.
http://www.lostatsea.net/review.phtml?id=10283093684249e066b28e5
05/04/2005
Jesu - Jesu
Hydra Head Records

Rating: 8/10
Justin Broadrick is a musician so difficult to ascertain, his projects are often ignored within the mainstream. Having fronted the astounding Godflesh, the predacious anger of Napalm Death and the excruciating hip hop-oriented Techno Animal, the man has nevertheless made himself a name among the out-of-the-centre media circles. Praised by his dark ambiences and deathly discharges of industrial detritus that his records imprison, Broadrick has managed to add a horizontal, plain dimension to sombre music.
But the jury is still out on fluid-as-running-water guitar ‘n’ strum albums. Jesu is definitely not the one and the title is once again up for grabs. This new project’s debut – the Birmingham UK native’s new incarnation is also called Jesu – is a sutured noisebox that frightens when serving as background ambience. Sometimes reminiscent of the sound the mechanic’s drill makes, these songs strive to alchemize beauty from malice. To a great extent, I should add.
The inaugural track, “Your Path to Divinity”, unleashes a torrent of guitar mantra penetrated by the pounding drumming of Ted Parsons - who has worked with the Swans and Prong, and is like the cement holding the adnominal bricks together. As the record stretches further, the vibe is absent to free some room to elated recurrences of slow chaotic delusions. Aggravated by layered puddles of monolithic atrophy, “Tired of Me” is the reason why Trent Reznor taught Marylin Manson how to breathe, whereas Broadrick inspired artists from the likes of Ministry and Neurosis.
Following the demise of Godflesh in 2002, Justin thought it was about time to add just another item to his ongoing curriculum and released the Heart Ache EP last year. Jesu is a different cup of tea, though. Lasting for one hour and a quarter of odd dynamics, it is like attending a trial where you are convicted of murder and released by the end of the record. Nobody was killed in the process and you were victim of a looming scheme. If you decide to go back and face the court staff again, you do that at your own risk.
It may sound hard as a rock but is way more challenging than the stalled dichotomies of hit-hard but-not-that-hard pasted onto the common hard rock nugget. All in all, this is hard because it plays dice with your mind, and leaves you trapped inside micro worlds of sonic deluge, as in tracks like “We All Faulter” and “Guardian Angel”. A titanic struggle between God and the Devil takes place here. The Devil obviously wins, but is then butchered by some sort of angel of death.
Jesu is a slaughterhouse soundtrack, but one where death happens at slow motion - which makes the record all the more disturbing. And well, maybe this imagery is not that accurate but it is entirely suggested by the repeated rerun of the album. At its best, it has the power to prevent you from falling asleep as if you were watching a late-night History Channel draft on Pol Pot. It brings your blood pressure to a halt, evolving from that point to hit you right in your make up-covered face.
Disclaimer: this is strongly inappropriate for those suffering from heart problems. All others, please rejoice!
http://www.lostatsea.net/review.phtml?id=11749614444249e11fc453a

Rating: 8/10
Justin Broadrick is a musician so difficult to ascertain, his projects are often ignored within the mainstream. Having fronted the astounding Godflesh, the predacious anger of Napalm Death and the excruciating hip hop-oriented Techno Animal, the man has nevertheless made himself a name among the out-of-the-centre media circles. Praised by his dark ambiences and deathly discharges of industrial detritus that his records imprison, Broadrick has managed to add a horizontal, plain dimension to sombre music.
But the jury is still out on fluid-as-running-water guitar ‘n’ strum albums. Jesu is definitely not the one and the title is once again up for grabs. This new project’s debut – the Birmingham UK native’s new incarnation is also called Jesu – is a sutured noisebox that frightens when serving as background ambience. Sometimes reminiscent of the sound the mechanic’s drill makes, these songs strive to alchemize beauty from malice. To a great extent, I should add.
The inaugural track, “Your Path to Divinity”, unleashes a torrent of guitar mantra penetrated by the pounding drumming of Ted Parsons - who has worked with the Swans and Prong, and is like the cement holding the adnominal bricks together. As the record stretches further, the vibe is absent to free some room to elated recurrences of slow chaotic delusions. Aggravated by layered puddles of monolithic atrophy, “Tired of Me” is the reason why Trent Reznor taught Marylin Manson how to breathe, whereas Broadrick inspired artists from the likes of Ministry and Neurosis.
Following the demise of Godflesh in 2002, Justin thought it was about time to add just another item to his ongoing curriculum and released the Heart Ache EP last year. Jesu is a different cup of tea, though. Lasting for one hour and a quarter of odd dynamics, it is like attending a trial where you are convicted of murder and released by the end of the record. Nobody was killed in the process and you were victim of a looming scheme. If you decide to go back and face the court staff again, you do that at your own risk.
It may sound hard as a rock but is way more challenging than the stalled dichotomies of hit-hard but-not-that-hard pasted onto the common hard rock nugget. All in all, this is hard because it plays dice with your mind, and leaves you trapped inside micro worlds of sonic deluge, as in tracks like “We All Faulter” and “Guardian Angel”. A titanic struggle between God and the Devil takes place here. The Devil obviously wins, but is then butchered by some sort of angel of death.
Jesu is a slaughterhouse soundtrack, but one where death happens at slow motion - which makes the record all the more disturbing. And well, maybe this imagery is not that accurate but it is entirely suggested by the repeated rerun of the album. At its best, it has the power to prevent you from falling asleep as if you were watching a late-night History Channel draft on Pol Pot. It brings your blood pressure to a halt, evolving from that point to hit you right in your make up-covered face.
Disclaimer: this is strongly inappropriate for those suffering from heart problems. All others, please rejoice!
http://www.lostatsea.net/review.phtml?id=11749614444249e11fc453a
02/04/2005
#2: "I crawl into your mouth, I grow like a flower"
Playlist 02.Abril.2005
1a parte
Ficheiro MP3
Swans - I Crawled
The Books - Be Good to Them Always
Lou Barlow - Home
The Pastels - Leaving This Island (Jim O'Rourke remix)
Jesu - Your Path to Divinity
2a parte
Ficheiro MP3
Dälek - Classical Homicide
Ammon Contact - Infinity of Rhythm Instrumental
ervas daninhas:
Rhythm & Sound - See Mi Ya, Dem Never Know
Sam Prekop - Showrooms
Angels of Light - Destroyer
o coffee breakz recorda:
Duke Ellington - Take the "A" Train
3a parte
MP3 Ficheiro
DJ Food vs David Byrne - Fuzzy Freak (Via Joe)
Nagasa Ni Te - The True Sun
Praveen - Haze
1a parte
Ficheiro MP3
Swans - I Crawled
The Books - Be Good to Them Always
Lou Barlow - Home
The Pastels - Leaving This Island (Jim O'Rourke remix)
Jesu - Your Path to Divinity
2a parte
Ficheiro MP3
Dälek - Classical Homicide
Ammon Contact - Infinity of Rhythm Instrumental
ervas daninhas:
Rhythm & Sound - See Mi Ya, Dem Never Know
Sam Prekop - Showrooms
Angels of Light - Destroyer
o coffee breakz recorda:
Duke Ellington - Take the "A" Train
3a parte
MP3 Ficheiro
DJ Food vs David Byrne - Fuzzy Freak (Via Joe)
Nagasa Ni Te - The True Sun
Praveen - Haze
Subscrever:
Mensagens (Atom)
